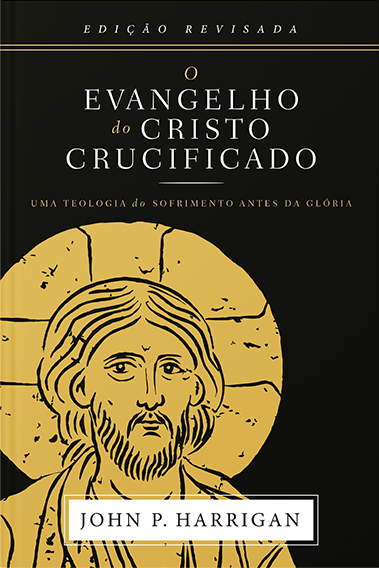Por: Kathryn Kuhlman
Eu tinha o pai mais perfeito que uma moça poderia ter. Aos meus olhos papai não errava de jeito nenhum. Ele era o meu ideal.
Ele nunca me bateu. Nunca foi necessário. A única coisa que ele tinha que fazer era adotar um certo tipo de olhar no rosto. Mamãe não hesitava em me castigar quando eu merecia. Mas papai me castigava mostrando que eu o tinha magoado — e isto era pior do que qualquer das surras da minha mãe.
Quando eu era menininha costumava ter terríveis dores de ouvido. Mamãe derramava óleo doce no meu ouvido e usava todo tipo de remédio caseiro que conhecia. Mas a coisa que aliviava de verdade era quando papai chegava em casa do trabalho, senta- va-se na cadeira de balanço, e tomando-me no seu colo, deixava eu colocar meu ouvido dolorido no seu ombro.
Meu pai, Joe Kuhlman, era o prefeito da pequena cidade de Concórdia, Missouri. Antes fora fazendeiro, mas agora morava na cidade há algum tempo. E foi lá que eu nasci, a terceira dos seus quatro filhos.
Com 14 anos nasci de novo na igreja Metodista (igreja da minha mãe) e fui batizada nas águas na igreja Batista (igreja do meu pai). Dois anos depois recebi o chamado para pregar.
Minhas primeiras experiências de pregação foram no estado de Idaho. Eu ia de comunidade a comunidade, tendo às vezes que viajar de carona. Procurava um edifício vazio, anunciava os cultos, colocava bancos, e as pessoas vinham — exclusivamente por curiosidade, para ver uma pregadora adolescente de cabelos vermelhos. Se eu encontrasse um templo abandonado, procurava descobrir quem era o proprietário, e então pedia licença para realizar os cultos.
Geralmente minha congregação consistia de um grupinho de fazendeiros de Idaho, que só me deixava usar o templo porque não tinha condições de pagar um pregador. Às vezes eu dormia no quarto de hóspedes de alguém ou talvez num pequeno quarto alugado que eu mesma encontrara.
Uma vez, quando não tinha outro lugar para ficar, dormi num galinheiro, enquanto realizava reuniões noturnas numa igreja abandonada no trevo de uma pequena comunidade rural. Mas eu estava cheia de entusiasmo e sentia capaz de tomar o mundo para Deus.
Minha única tristeza era que meu pai nunca me ouvira pregar. Eu sonhava com o dia quando meu pai estivesse no auditório e visse sua filha atrás do púlpito. Aquele seria um grande dia.
Passou-se um ano inteiro antes que eu pudesse planejar uma viagem para casa; a viagem custava caro e eu precisava de cada centavo para comprar folhetos e espaço nos jornais. Passei uns poucos dias maravilhosos de verão com meus pais e minha irmã mais nova que ainda estava em casa.
Então saí de novo. Em dezembro eu já estava em Colorado. Era o meu segundo Natal longe da família, mas os convites para pregar começaram a aparecer e eu não podia parar agora. Meus primeiros cultos em dezembro foram num armazém vazio na Rua Champa e eu tinha conseguido que uma madeireira fornecesse material para fazer os bancos. A Sra. Holmquist, proprietária do Hotel St.Francis, alugou-me o quarto n.º 416
por $4 por semana.
Foi lá, às 4:30 da tarde, na terça-feira depois do Natal que o telefone tocou. Recoheci a voz, do outro lado da linha, como sendo de uma velha amiga da minha família.
“Kathryn, o seu pai está ferido. Aconteceu um acidente.”
“Ferido — muito?” “Sim”, ela disse.
“Diga pro papai que estou saindo para casa agora mesmo.” Eu tinha comprado um velho Ford V-8 e joguei algumas coisas no banco de trás e parti. Só Deus sabe como dirigi naquelas estradas geladas, mas meu único pensamento era no meu pai. Papai estava esperando por mim. Papai sabia que eu estava chegando.
O tempo piorou quando saí do Colorado e entrei em Kansas. As estradas estavam cobertas de gelo e neve derrapante, mas não parei nem para comer nem para descansar.
A cem milhas de Kansas City parei numa cabine telefônica ao lado da rodovia deserta e chamei em casa. A tia Belle respondeu.
Eu disse: “Aqui é Kathryn. Diga para o papai que estou quase chegando.” “Mas, Kathryn”, tia Belle disse numa voz conturbada, “não contaram para você?” “Contaram o quê?” disse eu, sentindo meu coração começar a bater violentamente no meu peito.
“Seu pai foi morto. Ele foi atingido pelo carro de um estudante universitário que está passando os feriados aqui. Ele morreu quase instantaneamente.”
Fiquei chocada. Tentei falar mas as palavras não vinham. Meus dentes estavam se batendo uns contra os outros de forma incontrolável, e minhas mãos tremiam enquanto eu permanecia naquela cabine telefônica abandonada, cercada pela neve que caía em redemoinho. Só me lembro do vento gélido que congelava as lágrimas do meu rosto à medida que eu cambaleava de volta para meu velho carro e retomava minha viagem para casa.
Tenho que chegar lá, pensei. Talvez não seja verdade.
As milhas seguintes eram como um pesadelo. A rodovia era uma superfície brilhante de gelo. Meu carro era o único na estrada. A noite caiu e a luz dos meus faróis era refletida de volta para mim por um ofuscante muro branco de neve. Eu estava chorando, tentando manter o carro na estrada lisa e escorregadia.
Papai não pode estar morto. Isto não passa de um sonho mau. Se eu o ignorar vai desaparecer.
Mas não desapareceu. Quando cheguei em casa, o corpo do meu pai estava num caixão aberto na sala da nossa grande casa branca na Rua Principal. Sentei-me sozinha no quarto lá em cima, recusando-me a descer e olhar para ele. Eu podia ouvir o ruído abafado de pés no alpendre e as conversas sussurradas ao redor da casa.
Eu tinha medo de que se fosse lá e olhasse o corpo de papai, eu teria que enfrentar imediatamente a realidade da sua morte.
Senti que se me acordasse desse sonho mau e descobrisse que era tudo verdade, meu mundo inteiro acabaria.
E eu estava lutando contra um outro sentimento. Ódio. Surgiu dentro de mim como um vulcão e para cada pessoa que entrava no quarto eu destilava veneno contra o jovem que tinha tirado a vida do meu pai. Eu sempre fora uma pessoa feliz. Papai me tornou feliz. Mas agora ele tinha ido embora e em seu lugar estavam estes obscuros e estranhos sentimentos de medo e de ódio.
Chegou então o dia do funeral. Sentada lá na primeira fila da pequena igreja Batista, eu ainda me recusava a aceitar a morte do meu pai. Não era possível. Meu papai, tão cheio de amor pela sua “bebê”, tão terno e gentil; não podia ser verdade que ele se Foi.
Depois do sermão, o pessoal da cidade saiu dos seus lugares e caminhou solenemente pelo corredor a fim de dar uma última olhada para o caixão. Então eles se foram. A igreja ficou vazia com exceção da família e dos funcionários.
Um por um a minha família se levantou dos seus assentos e se enfileirou ao lado do esquife. Mamãe, minhas duas irmãs. Meu irmão. Somente eu fiquei no banco.
O dirigente do culto veio até mim e disse: “Kathryn, você gostaria de ver o seu pai antes que eu feche o caixão?”
De repente eu estava de pé na frente da igreja, olhando para baixo — meus olhos fixos não no rosto de papai, mas no seu ombro, aquele ombro sobre o qual eu tinha tantas vezes reclinado. Lembrei-me da última conversa que tivemos. Estávamos no quintal da nossa casa, no último verão. Ele estava de pé, perto do varal, segurando o arame com sua mão.
“Baby”, disse ele, “quando você era uma menininha, você se lembra de como costumava aninhar sua cabeça no meu ombro e dizia: ‘Papai, me dá um níquel’?”
Acenei que sim com a cabeça. “E você sempre me dava.”
“Porque era o que você pedia. Mas, baby, você poderia ter pedido meu último dólar e eu lhe teria dado do mesmo jeito.”
Cheguei mais perto e gentilmente pus a minha mão naquele ombro lá no caixão. E quando eu o fiz, algo aconteceu.
Tudo o que os meus dedos acariciaram era um conjunto de roupas. Não somente aquele casaco de lã preta, mas tudo o que aquela caixa continha era simplesmente algo descartado, amado antes, posto de lado agora. Papai não estava lá.
Apesar de já ter pregado durante um ano e meio, aquela foi a primeira vez que o poder do Cristo ressurrecto me alcançara. Derepente eu não estava mais com medo da morte; e à medida que meu medo desapareceu, também desapareceu meu ódio. Foi minha primeira e real experiência de cura.
Papai não estava morto. Ele estava vivo. Não havia mais necessidade de medo ou ódio.
Inúmeras vezes tenho voltado àquele pequeno cemitério em Concórdia, onde enterraram o corpo do meu pai. Não há lágrimas. Não há tristeza. Não há dor no coração, porque naquela manhã na igreja eu compreendi que as palavras do Apóstolo Paulo eram verdadeiras: “Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor.”
Isso foi há muitos anos atrás. Desde então tenho sido capaz de ficar diante de uma sepultura aberta com muitos outros e compartilhar a esperança que vive em mim. Passei por vários topos de montanha em todos esses anos, oportunidades para viajar e ministrar e pregar. Mas sabe de uma coisa? O crescimento não veio nos topos das montanhas, e sim nos vales.
Este foi o primeiro vale, o mais profundo, aquele que teve o maior significado. Quando eu deixo a plataforma hoje, depois de horas de confronto com a doença, a deformidade e toda espécie de necessidade humana, volto para o vestiário. E muitas vezes, naquele momento sinto algo estranho. Sinto que papai está lá. Ele nunca me ouviu pregar enquanto no corpo, mas sei que ele sabe que sua filhinha está tentando fazer um bom trabalho para o Senhor. E ele sabe que agora constantemente deito minha cabeça no ombro do Pai Celestial, sabendo que posso tomar posse de todas as bênçãos do céu através de Cristo Jesus.
Kathryn Kuhlman foi uma famosa evangelista de cura americana que abençoou a vida de milhares de pessoas. Morreu em 1976.
————————————————————————————————————————————————————————
” ENTRE ASPAS “
Quando Jesus voltou ao céu, ele deixou mais que uma lembrança, mais do que uma sensação de continuidade de alguém que se foi. Ele nos disse que seria melhor para nós que ele fosse, pois então o seu Espirito — a energia e a vida pessoais que permearam seu ser humano durante os dias de sua vida na terra — entraria em nós. E ele, o Espirito de Cristo, uma pessoa real, não só viria até nós, mas se tornaria parte de nós — a parte mais profunda e verdadeira daquilo que somos.
Larry Crabb